 |
| Pobre Coyote |
 |
| Daniel Piza (1970-2011) |
Tinha um tema fixo, intitulado: Por que não me ufano, no qual, pelo enunciado, tecia comentários “do contra”, contestando alguma estultice em voga no país, vanglória normalmente vinda de cima, dos governos, dos políticos, dos setores poderosos da sociedade, da mídia subserviente, mais do lucro que da cultura, do preconceito arraigado que, com o tempo, provaria ser isso mesmo: uma falsa realidade, vaidade inútil, jactância que cumpriu o dever de servir aos propósitos do jogo do poder, dos ditames do mercado e da ideologia, manipulando o pensamento e o comportamento de milhões.
 |
| Alô, Brasília, vem aí uma chuva de bigornas! |
Isso porque não há, neste início de 2019, do que se ufanar. Brasília é só um lugar sitiado, teatro de operações de marionetes, novo jardim de medíocres que se imaginam em guerra, de onde emanam altas decisões nacionais. Fé inquebrantável e confiança sem limites no seu grande destino, só mesmo nas célebres palavras de Juscelino Kubitscheck, gravadas em mármore na Praça dos Três Poderes.
Isso dito porque este blog continuará, na medida do possível, trazendo à tona aqueles que fazem arte musical sem limites e que resistem em sucumbir à ignorância, espectro sinistro que, ao que parece, ditará as normas a partir de agora, certamente pelas palavras, possivelmente com o uso desastroso da força, a tentação é grande, afinal.
 |
| Pierre Henry, no estúdio (1951) |
Questão de longos debates, vejam. Digital ou analógico, o que é melhor? Aliás, pergunta primordial, uma coisa é melhor que a outra? Na internet, encontram-se páginas e páginas dedicadas ao discernimento do tema. Pelo visto, Pierre Henry defende a poética do som, da música, as qualidades analógicas, tanto na maneira de fazer e gravar quanto na de ouvir música. O que implica em um outro problema bastante conhecido.
 |
| A very expensive hi-fi stereo system |
 |
| Neil Young |
Detalhe: gerações de corações e mentes foram assim moldadas, analógicas, ouvindo música na maioria das vezes em equipamentos de alta-fidelidade, em geral reproduzindo aquilo que fora bem captado no estúdio, etc. Audiófilos também diriam que nas frequências mais baixas, o analógico dá de pau no digital. Por isso, o som gerado assim teria, entre outras qualidades, calor, nuances que se perdem na compressão do som digital. Sua qualidade maior: fidelidade ao invés da praticidade.
Em oposição a isso, há quem diga que tudo não passa de papo furado de audiófilo, gente com uma tranqueira de equipamentos para reproduzir o som. Hoje as técnicas digitais empregadas por estúdios são muito avançadas; elas facilitaram a manipulação do som, dispensando custos, grandes estúdios, muitos músicos e técnicos envolvidos. Ademais, graças à digitalização do som, temos a experiência audiovisual indo a lugares nunca antes imaginados, vide os discos de metal que a sondas espaciais Voyager 1 e 2 carregam na atual aventura pelos limites da Heliosfera. Vejam que essas sondas são do final dos anos 1970 do século passado.
Com a digitalização do som, isto é, com o advento de modernas técnicas de compressão do som baseada em algoritmos, hoje carregamos milhares de músicas e também filmes, que tanto estão nos HDs quanto na nuvem e nos chegam na forma de streaming, para o desespero do Neil Young. A qualidade maior da digitalização: a praticidade ao invés da fidelidade.
No final das contas, diriam os ponderados, nem um nem outro. Pouco importa se é analógico ou digital. Estamos falando do campo auditivo, não visual. Duas pessoas teriam percepções diferentes do som emitido com uma certa razoabilidade de reprodução. Não saberiam dizer se o que ouvem é analógico ou digital.
Um acharia legal o equilíbrio de graves e agudos, percebendo, digamos, os instrumentos musicais em seu leque de timbres, enquanto outro acharia tudo aquilo chato, quer dizer, o som achatado, as nuances perdidas, embora o som seja plenamente reconhecido, voz é voz, guitarra é guitarra, piano é piano, assim por diante.
Voltando a Pierre Henry, quem se propor ao exercício de ouvir, por exemplo, uma gravação da Messe Pour Le Temps Présent (1967) (aquela que tem Psyché Rock), que o faça em vinil de boa qualidade (180 gramas), de preferência em um poderoso (som) hi-fi, porque é desse jeito que flui a atmosfera proporcionada pela melhor música.
 |
| Paulo Beto (Anvil FX) |
Algo um tanto incomum naquele espaço, mais acostumado a receber atrações musicais, digamos, mais orgânicas, ainda que usem instrumentos eletrônicos, como guitarras, baixos e teclados. Com Paulo Beto, a ênfase é a música eletrônica feita a partir dos sintetizadores analógicos. Isso, sonzeira vintage para ouvir e viajar.
 |
| Dadaísmo, industrial, electro-punk, synthwave: Anvil FX em ação |
Observem que Paulo Beto não é exatamente um ortodoxo da música eletrônica, tomada aqui em stricto senso, que remete à música concreta, corrente que teria começado em França, século passado, nos anos 1940, pelas montagens de sons pré-gravados realizadas por figuras como Pierre Schaeffer e o estimado Pierre Henry.
Paulo Beto abastece de energia seus projetos nessa usina geradora de ideias. Por mais que, ao longo de trajetória iniciada no final da década de 1980, tenha adotado em sua música o conceito de batidas por minuto e resvalado com muita propriedade por gêneros como o drum’n’bass misturado a ritmos brasileiros, sua estética guarda DNA e memória com ideias que surgiram com os venerandos precursores como os citados Schaeffer e Henry, bem como gênios da raça como Lev Thermin (Léon Theremin) Olivier Messiaen, Karlheinz Stockhausen, John Cage, Robert Moog, e os pioneiros brasileiros Jorge Antunes, Rodolfo Coelho de Souza e Jocy de Oliveira.
Nunca demais mencionar que Paulo Beto e o Anvil FX lançaram algo como 6 CDs e 2 LPs de material autoral, estando presente em coletâneas lançadas no País e no exterior. Ao vivo, dividiu palco com artistas como Swamp Terrorists, Atari Teenage Riot, Ed Rush, Stereolab, Amon Tobin, Nicola Conte, e o grande Damo Suzuki (CAN). Em termos de parcerias, assina projetos com Tatá Aeroplano, Miguel Barella, Zé do Caixão, Otto, Trio Mocotó, Rica Amabis, Antonio Pinto (remixes da música do filme Cidade de Deus), Mawaca, entre outros.
 |
| Lo-Fi Genesis (1999) |
 |
| Miolo (2002) |
 |
| Anvil Machine (2013) |
 |
| Prova de Biologia (2015) |
Em sua discografia, aparecem em destaque os discos Lo-Fi Genesis (1999), Miolo (2003), Anvil Machine (2013), e Prova de Biologia (2015), que merecem ser ouvidos e considerados por todos que apreciam o pop-rock-eletrônico made in Brazil.
Completando neste 2019, 20 anos de seu lançamento, o disco Lo-Fi Genesis foi bem-vinda e bem realizada iniciativa de nossa vocação cultural antropofágica, ao propor bits, bytes e beats misturados a sons reconhecíveis do imaginário sonoro brasileiro. Para variar, uma apropriação que os antenados adoraram, mas que um público possivelmente consumidor passou batido, como passa batido em muitas iniciativas artísticas de grande valor.
Paulo Beto concedeu entrevista a este blog, tendo em vista a apresentação que realizará no teatro da Caixa, em Brasília
Blog do Hektor – É a sua primeira vez em Brasília? Alguma pista de como vai ser a apresentação?
Paulo Beto – O Anvil FX fez seus primeiros shows em Brasília. Desde 1996, graças aos DJs mais atuantes dessa época, André Cnun e Pedrinho The Six (acho que eram assim os nomes). Dessa vez estou indo tocar dentro do projeto Solo Música da Caixa Econômica Federal. Então infelizmente não vai ser a banda Anvil FX, que hoje tem a importante participação de Bibiana Graeff e Apolônia Alexandrina.
BH – O projeto que o traz a Brasília se chama Série Solo Música, que pressupõe um único artista no palco. Então vai ser só você, ou alguém mais vai estar presente?
PB – No palco estarei solo, mas junto comigo terei a participação de Apolônia Alexandrina que opera a parte de vídeo do espetáculo. Ela também assina a direção artística.
BH – O local da apresentação em Brasília, em 16 de janeiro de 2019, é o teatro da Caixa Cultural. Um teatro pequeno, intimista, não outro espaço comumente associado à música eletrônica, como uma boate ou área ao ar livre. Imagina-se que as pessoas permanecerão sentadas, a não ser que sejam instigadas a levantar e dançar. Esse tipo de ambiente, de acústica específica, influencia o som do Anvil FX? É a chance de ouvir os timbres de sintetizador em toda a sua glória?
PB – Hehehe, você já respondeu à pergunta. De fato, esse trabalho não foi pensado para pistas de dança, o objetivo é mostrar música para quem se interessa pelas possibilidades, timbres e beleza do som dos sintetizadores.
BH – Como dito, não é comum vermos atrações eletrônicas em teatros. Outro fator interessante, o horário da apresentação, algo como 8 da noite. Quem curte música eletrônica muitas vezes se submete a horários terríveis, como a alta madrugada. O corpo quer descanso, mas a situação exige o contrário. Não acha que esse tipo de som merece ser consumido em horário, digamos, civilizado? Isso não ampliaria a audiência para esse tipo de música?
PB – Tudo depende da proposta do artista. Esse termo música eletrônica é lido de diversas formas diferentes. Até parece que a música eletrônica nasceu nas pistas ou com a intenção de fazer dançar, né? A História dos instrumentos eletrônicos remonta há mais de 100 anos. Uma boa pesquisa nesse sentido é o site www.120years.net. Uma leitura que podemos ter desse termo é que a Música Eletrônica é a música criada a partir de recursos eletrônicos. Pra mim interessa mais o sentido de música eletrônica como a música que foi gerada a partir dos recursos que a tecnologia eletrônica foi capaz de oferecer ao compositor. Por exemplo os timbres sintéticos, as interfaces sensoriais, as colagens, a automatização mecânica que permite inclusive performances tonais e atonais impossíveis. Hoje em dia a música feita nesse campo que atrai mais público é a música funcional de festa. Parece que o artista ou DJ é o protagonista, mas no fundo é um evento dedicado aos prazeres sociais hedonistas.
BH – Você acredita que existe preconceito quanto ao som eletrônico em um país bastante musical como o Brasil que, de alguma forma, preza as formas mais orgânicas de produção, com predominância de instrumentos acústicos?
PB – Diferente de outros países, o Brasil por ser rico em culturas folclóricas e com uma vasta natureza exuberante, investiu-se na tradição e menos na pesquisa e na vanguarda. Arraigou-se muito a ideia da valorização do tradicional num período em que o mundo havia descoberto as tecnologias, as novas filosofias musicais e uma nova estética vanguardista. No campo da música houve no Brasil nomes incríveis como Reginaldo Carvalho, Jorge Antunes, Jocy de Oliveira, Rodolfo Caesar, Conrado Silva, mas todos eles tiveram que buscar seus estudos e contatos com a tecnologia em países como Holanda, Inglaterra, Itália, Alemanha e até Argentina. Olhando para obra de Walter Smetak e conversando muito a respeito com Rufo Herrera (maestro e compositor de tango e música de vanguarda no Brasil nos anos 1970) a falta ao acesso aos instrumentos eletrônicos diante da maravilhosa oferta dessa nova música inovadora que aflorava pelo mundo fez com que eles buscassem sons compatíveis nas possibilidades acústicas.
BH – Curtir o som do Anvil FX pressupõe ter várias informações, como por exemplo, o tipo de estética envolvida. Kraftwerk, Tangerine Dream, e a escola eletro industrial saltam aos ouvidos toda vez que um som de sintetizador se sobressai. Poderia discorrer sobre as influências que ajudaram a moldar o som do Anvil FX e de outros projetos com os quais você se envolveu?
PB – Nossa... tá ai uma pergunta complexa... Diferente de muita gente que conheço aqui em São Paulo, até pelo fato de eu ser mineiro de Juiz de Fora, nunca me fechei muito em estilos determinados. Logo, de uma forma ou de outra muita coisa muito distinta me influenciou todo esse tempo. Claro que o Anvil FX hoje tem um foco muito específico. Pra citar nomes de artistas importantes para esse nosso trabalho hoje eu diria: Divergência Socialista, Kas Product, The Normal, Xex, Crash Course in Science, D.A.F., esse tipo de coisa que oscila entre NYC No Wave ao som Europeu recheado de sintetizadores mas com uma pegada minimalista New Wave.
BH – Falando em influências, li em algum lugar que artistas eletrônicos consagrados do meio – Ultravox, Visage, John Foxx, OMD e até o Alphaville – apenas recentemente capturaram a sua atenção. É verdade? Não curtiu à época New Wave, Gary Numan/Tubeway Army?
PB – O technopop realmente me escapou, a new wave não. Vivi mais a new wave. Gary Numan eu ouvi de forma muito fragmentada, mas curtia demais. Quando eu descobri o Numan eu buscava por coisas que se assemelhassem a Kraftwerk, porque não queria ouvir o som do sintetizador só na mão do povo progressivo ou na mão dos caras mais cósmicos tipo Vangelis ou Jean-Michel Jarre. Pensava: "não é possível que eles são os únicos!". Claro que estou falando do ano de 1979/1980... Convenci um amigo a comprar o disco The Pleasure Principle porque eu mesmo não tinha grana. Acabou que ele odiou o disco, mas curtia o Kraftwerk. Eu já teria ficado feliz de ter aquele álbum.
BH – David Bowie – sobretudo fase Berlin (Low, Heroes, Lodger) – foi uma influência importante?
PB – Nenhuma, hahahaha. Sempre detestei o Bowie. Pra mim ele vibrava mais com outras questões comportamentais, que foram obviamente importantes pro mundo, mas que não dialogavam muito comigo. O fato é que o que essa fase dele tem de bom eu curtia muita as próprias fontes, Robert Fripp, Eno, Krautrock e etc. Então não me provocava surpresa. Parecia mais um super star querendo ser descolado.
 |
| Ralf Hutter |
 |
| Edgar Froese |
 |
| Genesis Breyer P-Orridge |
PB – Cara... nenhuma dessas pessoas eu curtiria trabalhar nem como roadie. Hahahaha. Apesar de admirar demais os artistas que eles foram e ainda são. Acho que ficaria feliz hoje como roadie do Adult. ou do Felix Kubin.
BH – O som eletrônico dos anos 1970 e 1980, com sua profusão de efeitos gerados por sintetizadores analógicos parece estar no cerne do som que você tem feito a vida toda. O que há de tão atraente no som eletrônico analógico? Em termos de praticidade, os recursos digitais não suprem sua necessidade de expressão musical?
 |
| Roland W30 |
 |
| Minimoog (1970) |
PB – Eu achei essa modernidade uma benção, porque sofri muito na época do acesso por não ter dinheiro. Primeiro veio o CD que permitiu que algumas bandas muito obscuras emergissem, pois seus LPs era muito raros e caríssimos. Exemplo: o Silver Apples ou o United States of America. Mas mesmo assim era complicado ter que pagar tanto pelos discos e boxsets. Depois veio a possibilidade de copiar o CD sem perda de qualidade. Paralelamente vivi o despertar do Mini Disc. Isso já foi uma loucura, mas mesmo assim ainda dependia de ser amigo de algum colecionador foda rico. Paralelamente a internet veio com os sites e blog de divulgação de discos engraçados e obscuros que nem podíamos imaginar que existiram. Daí veio aquela vontade absurda de conhecer, mas eram itens que nem sequer tinham sido lançados em CD, por sua obscuridade ou interesse muito específico pro mercado. Daí começou o compartilhamento de dados na rede e toda essa informação valiosa começou a emergir do obscurantismo imposto pelo filtro do mercado durante décadas. Novos gênios e estrelas foram dados ao mundo, sendo que os que não tinham morrido na pobreza estavam pessoalmente isolados da possibilidade de se comunicar com o mundo. Quem viveu essa época sabe que a informação vale muito mais que a qualidade da audição. Mas é claro que ouvir música numa plataforma analógica é mais confortável. Isso tem explicação na física, a forma de compressão é completamente diferente. Uma coisa que sempre me ajuda a explicar e fica fácil de entender é que o som digital tem a possibilidade de soar do zero absoluto ao pico sonoro. O analógico fisicamente faz uma curva. Isso faz com que o som analógico seja mais macio e menos agressivo aos ouvidos. Se ouço muito mp3 no celular andando na rua, tem uma hora que sinto dor de cabeça e preciso parar. Se você tem o hábito de ouvir sons mais extremos, então...
BH – MP3, CD, k7, vinil ou streaming, você tem preferência? Vinil, né?
PB – Vinil e K7.
BH – Houve um tempo em que o som underground brasileiro tinha em artistas eletrônicos representantes de peso. Não sei se essa era a percepção de quem vivia antenado no meio e se empolgava com o aparecimento de artistas não ligados à tradição. Bandas do selo Cri Du Chat, artistas como Símbolo, Loop B, Harry, Anvil FX um pouco depois, entre outros, produziam um tipo de música não exatamente popular, mas de grande importância cultural e artística. Como você vê aquela época, tendo a perspectiva do distanciamento atual?
PB – Éramos peixes fora d’água. Até a rave aparecer a música eletrônica não tinha o menor destaque. Era pra poucos e dividia as águas. Quando eu comecei a ver os moderninhos guitar sound e seus jornalistas associados se auto intitulando os precursores da música eletrônica no Brasil tive que rir. A galera surtando com o Chemical Brothers, Prodigy e Daft Punk. Isso porque o relacionamento com a música eletrônica tinha mudado pra algo funcional, para festas e tribos comportamentais. Muitos, na real, entravam nessa via as novas experiências das drogas. Fomos uma geração ignorada. Só quem se ligava no rolê mais underground é que respeitava um pouco. Não me identificava com o techno ou o house e isso acabou virando o novo mainstream. Todo evento e festa começou a tocar a mesma coisa. Ficou chato demais. Mas sempre havia a contrapartida. A galera que tinha mais background e referências naturalmente foram caindo pra gostar de selos como WARP, Ninja Tune ou Mille Plateaux. De alguma forma o experimentalismo foi alcançando o som de pista graças aos novos recursos digitais. Produzi muito nessa linha. Meu primeiro disco Lo-Fi Genesis é um reflexo dessas influências, além do Drum'n'Bass, que naquele momento era muito sedutor. Groove unido a batidas aceleradas e sons agressivos. Uma fórmula que ainda podia ser combinada com muitos outros estilos musicais como Jazz, Experimental ou até Rock. Eu misturei com algumas brasilidades e foi bem na época que eu comecei a me interessar mais por música regional brasileira. Voltei ao meu instrumento de origem, o violão, e estudei muito harmonia de samba e bossa nova. Esse foi meu segundo álbum, o Miolo.
BH – Nos anos 1990 em diante parece que houve uma troca. Ao invés de artistas tocando Electro, EBM, IDM, Minimal, etc, tivemos o surgimento de DJs comandando a música eletrônica e tocando para as massas. Uma fase gloriosa com o Drum’n’Bass (Patife, Marky) e a House (Mau Mau, Anderson Noise, Renato Lopes), porém centrado na cultura das festas. Esse lado, digamos, mais ensolarado da eletrônica teve efeito sobre o seu trabalho?
PB – Os DJs eram os reis do pedaço, né? Ganhavam cachês bem gordos, afinal animavam festas pra muita gente. Eles curtiram o momento deles. Alguns aprenderam a criar os clichês que eles tocavam. Outros mantiveram-se objeto de outros produtores mais experientes que lidavam com eles como um trampo de publicidade. É o ápice da música neoliberal. Deve ser bom ser animador de festa de sucesso.
BH – Poderia falar da presença dos ritmos brasileiros na música eletrônica ou vice-versa? O disco Miolo (2002) tem um quê de MPB.
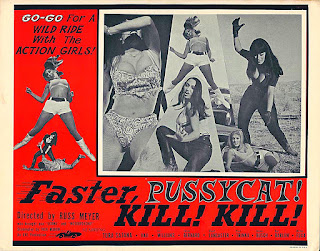 |
| Tura Satana, musa de Russ Meyer |
BH – Você se interessa por vertentes como o funk carioca e o technobrega?
PB – Respeito.
BH – Não sei ao certo em quantos projetos paralelos você está envolvido. Poderia descrevê-los?
PB - Impossível. Quem sabe um dia.
BH – Trabalhar com colaboradores tem sido uma constante em sua trajetória artística. Edgard Scandurra (IRA!), Miguel Barella, Alex Antunes (Akira S), João Parahyba (Trio Mocotó), Walter Franco, Otto e Tatá Aeroplano são nomes conhecidos com quem você esteve em algum momento compartilhando ideias musicais. Mas há outros, como Arthur Joly e Dino Vicente. Como se dá esse intercâmbio?
PB – Amizade, respeito e reverência.
 |
| Bibiana Graeff, Juliana R. e Paulo Beto |
PB – Uma coisa que entendi muito rápido é que ambiente que só tem homens é um saco, isso desde a minha primeira banda, em 1980. A sensibilidade artística, sagacidade e inteligência naturais das mulheres me interessam muito. Acompanho o trabalho de muitas como fã há décadas. Essas mulheres que você citou são o exemplo vivo disso pois esbanjam talento. Mas na minha carreira foram muitas cantoras, letristas, ilustradoras e instrumentistas.
 |
| Paulo Beto, Arthur Joly (de costas) e o Jolymod III |
PB – Eu não, porque sou amigo do Joly, hehehe.
BH – Você começou em Belo Horizonte, certo? Mas parece ter sido formado nas hostes do underground paulistano. Madame Satã, Ácido Plástico, Carbono 14, São Paulo, anos 80, era do balacobaco. Góticos para todos os lados. Tem boas lembranças dessa época?
PB – Minha época dos 80 foi toda em Juiz de Fora. Nem a BH eu ia. Tenho ótimas lembranças dos rolês New Wave, Punk e Postpunk.
BH – Salvo engano, você tocou ao vivo fazendo a trilha sonora de um filme do Zé do Caixão. José Mojica é uma figura. Como foi essa experiência?
 |
| Anvil FX versus Zé do Caixão |
BH – Já que vem a Brasília, pretende contatar o maestro Jorge Antunes, um dos pioneiros da música eletroacústica no Brasil? Aliás, vocês estiveram juntos em um ou outro evento musical, não foi? Ao que parece ele não é muito afeito a essa coisa de beats, cultura DJ. Poderia falar dessa experiência com o maestro Antunes?
PB – Eu e Antunes somos amigos. Admiro demais sua pessoa, obra e sua trajetória. Quero muito poder jantar com ele um dos dias que estaremos juntos. No meu show tem uma homenagem a ele e a compositora Jocy de Oliveira. Inclusive uso um sintetizador que pertenceu a ela.
BH – Dentre os álbuns lançado pelo Anvil FX, o disco Lo-Fi Genesis (1999) parece ter sido o que teve maior esquema de produção e distribuição, correto? Lembro de ver cópias em vários lugares ou devo estar delirando.
PB – O selo Motor Music entrou com tudo na época. Quando um artista "novo" aparecia na cena na época, com um selo bacana cheio de contatos isso dava capa da Ilustrada ou do Estadão. Acredite, isso já aconteceu um dia.... Com divulgação o trabalho vira produto de verdade. Já o Miolo, da YB, eles acharam que ia ser melhor, pois haviam fechado um contrato de distribuição com a Trama, que na verdade enterrou o disco, porque era concorrência com os artistas deles. Foi uma cagada homérica, nem quero tocar nesse assunto.
BH – Você participou de um tributo a Luiz Gonzaga e outro à banda Fellini. Isso é realmente interessante. Como foi?
PB – Amo ambos.
BH – Afinal, o que significa Anvil FX? Um trocadilho com evil effect?
PB – Anvil FX é literalmente Efeito Bigorna. Lembra de quando caía a bigorna na cabeça do Coyote, do Papa-Léguas?
Para os interessados em leitura complementar recomenda-se o blog mundoestranhodepb.blogspot.com.br
Para quem gosta de:
The Young Gods
Einstuerzende Neubauten
Throbbing Gristle
Les Rita Mitsouko
Kas Product
As Mercenárias
Neon Judgment
Holger Hiller












